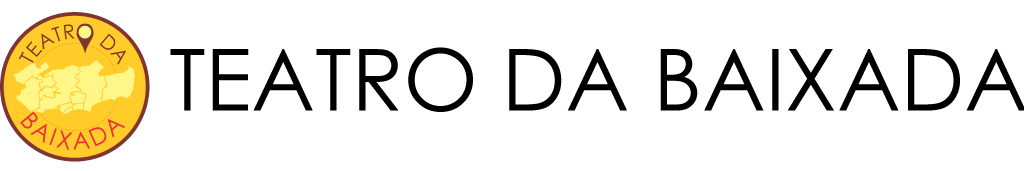ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Todo espaço habitado traz a essência da noção de casa.”
(BACHELARD, “A poética do espaço”)“Eu preciso aprender a escrever metáforas”
(Daniela Pereira de Carvalho, “Contra o vento”)
Houve um tempo em que as práticas cênicas de grupos tinham, quase como regra, o desejo de diluir a fronteira da ficção. Daí surgiram espetáculos em que as histórias individuais eram trazidas para a cena como forma de emprestar legitimidade ao discurso — o indivíduo, a história íntima, o sujeito singular eram, então, as balizas da experiência compartilhada. Atualmente, o que tenho percebido é uma segunda etapa desse caminho: depois de apresentadas as individualidades, apresenta-se o sujeito coletivo — aquele agrupamento que, depois de muitas negociações, tem seu ethos definido e, por meio de um conjunto de práticas (cênicas e/ou não), mostra-se como ente político pela sua natureza comunitária.
Nessa segunda etapa, entra na conjugação algo intrinsecamente ligado ao ethos do sujeito coletivo: seu lugar, sua casa, seu território. As amplitudes desses conceitos remetem a um espaço vivenciado que se forma como uma camada de sentido aplicada a partir de sua ocupação por corpos, à medida que estes se relacionam uns com os outros naquele espaço e com aquele espaço.
Cabeça de porco é, no jargão popular, um espaço destinado, em geral, à moradia cujas instalações são insalubres. Ao que se sabe, a expressão tem origem no famoso cortiço carioca destruído em 1893. Cabeça de porco é, novamente no jargão popular, sinônimo de azar — “tem uma cabeça de porco enterrada aqui!”. Cabeça de porco é, também, o nome do espetáculo que comemora as duas décadas de existência do Grupo Código, que, através da ficção, elabora um procedimento de resgate e de positivação da história do seu próprio território, transformando a leitura hegemônica e estigmatizante sobre os territórios periféricos ao converter o símbolo da má sorte e da insalubridade em bandeira de demarcação. Não por acaso, ao título soma-se o subtítulo Retratos de um território.
Em cena, um grupo de jovens atores narra o processo de reconhecimento de um estabelecimento local — o Forró do Zoinho — como parte estrutural da identidade não só do território, mas também dos sujeitos que o vivem como lugar de invenção de si. A bem da verdade, este é um dos fios (ou retratos) usados na construção (ou registro) do imaginário (ou da realidade) acerca daquele (e de todo) território. Talvez esse fio nos acompanhe por mais tempo por ser o Forró o lugar da subjetivação coletiva para onde convergem todos os personagens depois da lida com suas realidades.
A certa altura, os atores convidam alguns espectadores para dançar forró com eles. Fui. Durante a dança, a atriz me perguntou: “Você é daqui?”. Diante da minha negativa, ela estalou a língua e muxoxou: “Ah!…” Compartilhei desta frustração ao me dar conta, naquele instante, de que parte do que existe ali jamais será alcançada por um estrangeiro. É certo que o espetáculo será apresentado em outros espaços nos quais, talvez, o binômio ficção/realidade sequer entre em questão, e a peça seja tratada como uma alegoria sobre o conceito de comunidade, como tratado por Nêgo Bispo — o que já é muito! Mas prefiro tratar a peça como uma metáfora, posto que, nessa ideia, está contida uma ação de decifração. Há um segredo enterrado aqui! Os “daqui” o sabem, os demais sabem que ele existe, e não basta chegar à estação final do ramal de trens da Supervia, pegar outra condução e chegar ao Espaço Cultural Código, na Rua Davi, 397 – Nova Belém, em Japeri, para conhecê-lo. Mas esse contrafluxo (será mesmo contrário?) é o começo do movimento de desmonte das centralidades hegemônicas.
A ação de montar e desmontar as cenas, na composição ou no retorno a cada um dos retratos, é também metáfora do que se opera ali: a desmontagem da história oficial e sua reconfiguração a partir da insurgência de vozes, corpos e territórios que passam a impor sua presença “estraga-prazer” (pegando de empréstimo o conceito de Sara Ahmed, para quem, no contexto do feminismo, essa figura rompe com a falsa harmonia das convenções sociais, familiares e institucionais). Nesse sentido, o teatro é utilizado como procedimento de reinscrição da História. A cena é ocupada por corpos pretos, suburbanos, invisibilizados… Mais: a cena é ocupada pela cosmovisão circular, comunitária, ancestral, que faz surgir, em cena, mais do que os seis atores que dão corpo à trincheira. Aparecem seus pais, vizinhos, amigos, suas ruas, os becos, a cidade, o Rio, o país e as diversas raízes que ligam aquele pequeno evento transgressor, que reúne, talvez, uma centena de pessoas em torno de uma peça, à macro-história e sua tendência aos apagamentos.
Não se trata de ilustrar uma realidade social, mas de performar uma presença política que desafia o apagamento histórico e cultural. Assim, a experiência cênica não se fecha em si mesma, mas reverbera para fora, como um chamado — um convite para que aquele território, tantas vezes estigmatizado, seja visto em sua potência criativa e em sua centralidade para a produção de uma cultura plural.
O teatro, portanto, torna-se lugar de invenção de mundo: não apenas narra, mas funda; não apenas representa, mas reordena o sensível; não apenas ocupa a cena, mas amplia a própria noção de cena. Ao afirmar a vida na Baixada Fluminense como matéria artística e política, através de um gesto criativo, Cabeça de porco inscreve no mapa cultural brasileiro aquilo que tantas vezes foi relegado às margens — e o faz com a força de quem aprendeu a escrever metáforas, a transformar ruína em morada, invisibilidade em visibilidade compartilhada entre sujeitos coletivos (o grupo e a comunidade – com toda a abrangência que esse termo pode abarcar). O que se vê, então, é a consolidação de um teatro-território, sintetizando a ideia de uma cena que não apenas representa, mas funda e inventa mundos a partir de um lugar.
ESTE É UM ESPETÁCULO DO GRUPO CÓDIGO