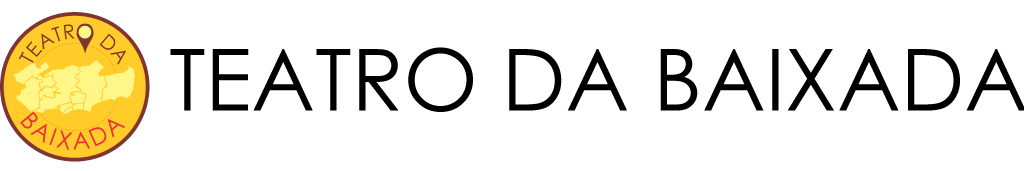ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Para alguns estudiosos, o problema todo se resume
em saber se é possível conceder à oralidade a mesma confiança
que concede à escrita quando se trata de testemunho de fatos passados.
No meu entender, não é esta maneira correta de colocar o problema.
O testemunho, seja escrito ou oral, no fim não se é mais
que testemunho humano, e vale o que vale o homem.
Amadou Hampâté Bâ
Há tempos que observo, em nossas ancestralidades negras, um tanto enorme de significações com as quais vivo, cresço, desenvolvo e existo, bem aqui, nesse território que denomino Afro-Baixada. Nesse tanto de memória que aflora em meu Orí, algumas delas saltaram imediatamente, no dia 15 de julho de 2025, assistindo a Zé Ketti, Eu Quero Matar a Saudade! , no Teatro Ziembinski, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O espetáculo reacende a memória cultural e a importância artística de José Flores de Jesus, o nosso gigante Zé Ketti, compositor negro nascido em Inhaúma, autor de sucessos como Opinião, Máscara negra, Diz que fui por aí e Acender as velas.
A montagem, como especifica a produção do espetáculo: “é uma celebração da cultura preta, das favelas e da força artística que moldou a identidade musical do país”. O ponto de partida do musical foi um gurufim, um rito de passagem, em memória de uma matriarca residente do subúrbio do Rio de Janeiro, que era fã inconteste do Zé Ketti. A matriarca deixa para sua neta, Giovanna (Clarissa Waldeck), a incumbência de realizar um espetáculo musical em homenagem ao seu maior ídolo, desde a sua juventude. A partir dessa peripécia, o que vemos é uma vizinhança tipicamente suburbana relembrando as memórias musicais e os feitos de Zé Ketti, esforçando-se para produzir um show em sua homenagem. Leandro Santanna vive o Egún Zé Ketti que perambula visível apenas aos olhos nus da encantada plateia. Um primor de interpretação.ㅤ
Criticar: método ou alimento?
Uma crítica teatral, a meu ver, se configura num exercício subjetivo de reconhecer-se no outro, nos sujeitos ali refletidos; no princípio de alteridade que, sobretudo, nos faz debruçar, esteticamente, no(s) objeto(s) de reflexão que nos são ofertados em atravessamentos diversos. A rigor, essa configuração tem correspondência, em essência e entrecruzamento, com os princípios fundamentais do teatro negro: memórias recorridas, corporeidades acionadas, ancestralidades “sankofadas”. Portanto, nesse palco primordial, me encontro com Zé Ketti, minha Vó Maria, Leandro Santanna, Antônio Pompêo, Wilson Rabelo e um montão de ancestres: vivos, vividos e revividos. Surge, daí, o ímpeto em trazer, na epígrafe do presente texto, as sábias palavras do griot Hampâté Bâ como se fora um puxão de orelha nos incautos acadêmicos, guardiões (diria o saudoso poeta de Queimados, Antonio Fraga) “das sutilezas do vernáculo”. Ironias à parte, Bâ é representado aqui como arauto da oralidade, um chamador crítico da memória evocada em cada pedaço, por menor que o seja, dessa imensa ancestralidade preta. Se a escrita é oralidade, a oralidade precede à escrita. É cultura. É fruta que dá em gente. É árvore que gente inventa.
“Matar a saudade, matar o esquecimento”… Dita, repetidas vezes no espetáculo, essa frase grudou na memória, não pela perspectiva dialética, mas pelas tantas lembranças que exprimem minha existência e percepção pretas. Nesse miolo, recordo as palavras de minha Vó Maria que, certa feita, eu ainda menino, contou-me um causo:
— Minha avó Benedita faleceu de banzo.
— Mas o que é banzo, Vó Maria?
— Banzo é um tipo de saudade… Saudade que mata gente.
No circular do tempo, já não tão menino, aprendi na escola que saudade é uma palavra que só existe na língua dos portugueses. Circulando ainda mais, descobri que não era bem assim; outros povos, outras culturas, outras línguas, para além do latim e do seu étimo solitas, designavam o sentimento de nostalgia mediante seus saberes e viveres. O banzo que, lá atrás, Vó Maria havia me ensinado, circulou e chegou a mim intermediado pelo “malandro” Nei Lopes com seu Novo dicionário banto do Brasil (Rio de Janeiro: Pallas, 2012). Lopes descreve:
Banzo [1] s. m. (1) Nostalgia mortal que acometia
negros africanos escravizados no Brasil. adj.
(2) Triste, abatido, pensativo. (3) Surpreendido, pasmado;
sem jeito, sem graça (BH). Do quicongo mbanzu, pensamento,
lembrança; ou do quimbundo mbonzo, saudade, paixão, mágoa.
Seguindo. Durante o espetáculo, o Egun Zé Ketti, do rapsodo Leandro Santanna, sai de cena; volta à cena, circula, sopra orientações, lembranças e sugestões no ouvido de Giovanna (Clarissa Waldeck), que segue orientando o frege. Esses divertidíssimos interlúdios, em minha análise, não ecoam simplesmente como orientações vindas do além, ainda que tais ludicidades espíritas nos encantem em risos, gargalhadas e aplausos à cena aberta. Ali, eu refleti com as ancestralidades. Ouso perceber/dizer que as lembranças sopradas pelo egun-ancestre, têm raízes fundadas no subúrbio representado; naquela árvore genealógica que não se encerra em laços consanguíneos, nem da avó de Giovanna, nem mesmo de sua família, ao contrário, cabem nesses galhos o artista preto, o ídolo cuja arte circula e mantém frondosa a improvável árvore daquela família extensiva.
“Matar a saudade, matar o esquecimento”. Das árvores que gente inventa, tristes são àquelas germinadas pelas sementes do racismo. Culpadas, não são as árvores. O tempo circula e a vida encruzilha-se, em harmoniosa Dikenga. Tô escrevendo e relembrando a história da árvore do esquecimento, localizada em Ajudá (Ouidah), no atual Benin. Diziam que as pessoas pretas sequestradas, antes de embarcarem nos tumbeiros, rumo à escravização nas Américas, eram obrigadas a circularem a tal árvore para terem suas memórias apagadas. Efetivamente, os brancos não obtiveram sucesso imediato. Mas do ponto de vista simbólico, no circular desse tempo, em que se transformou a árvore de Ouidah?
O musical Zé Ketti, Eu Quero Matar a Saudade! é um enfrentamento antirracista, em ética e estética, que propõe matar o banzo que ainda nos mata, que matou o genial Antônio Pompêo, matar a árvore de Ouidah que insiste no apagamento de Zé Ketti. O que vi, o que me acionou, foi o evidente círculo do tempo ancestral que uniu (ainda une) Bantos e Iorubás, Angola e Benin, nessa imensa Encruzilhada que chamamos de Diáspora Negra.
Salve Zé. Salve a Malandragem. Laroyê!
ESTE É UM ESPETÁCULO DA CIA TEATRAL QUEIMADOS ENCENA
_______________________________________________________________________________________

Marco Serra é ator, performer, professor formado em artes cênicas pela UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro); escritor, pesquisador e doutor em educação pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).